A lã está quente demais para esta pequena sala comum do lar de acolhimento em Paris, mas ela agarra-se a ela como a um colete salva-vidas. A mãe senta-se em frente, segurando uma mala gasta, a voz a oscilar entre a raiva e a incredulidade. Em cima da mesa, entre as duas: um relatório, um documento institucional frio que descreve, em linguagem clínica, como o cabelo da filha foi rapado sem o seu consentimento. Outras duas crianças, soube depois, passaram pelo mesmo. Sem motivo médico. Sem piolhos. Sem emergência. Apenas uma decisão tomada algures entre a rotina e o abuso. A mãe procura palavras e acaba por encontrar uma: “violência”. À volta, as luzes fluorescentes zumbem com calma. A história, porém, está longe de ser calma.
Cabelo, poder e a linha invisível que foi ultrapassada
A primeira coisa que ela reparou não foi o silêncio, mas a ausência de som. Nenhum resmungo adolescente habitual, nenhuma porta batida, nenhum som de auscultadores no máximo. Apenas uma rapariga, imóvel à entrada, com a cabeça tapada, o olhar a evitar tudo. Quando o boné finalmente saiu em casa, diz a mãe, precisou de um segundo para perceber o que estava a ver. O couro cabeludo rapado. As falhas grosseiras, irregulares. O ar de quem não pôde escolher.
Conta-o como um pesadelo. Dois novos casos no mesmo lar de acolhimento em Paris, depois de um primeiro já ter sido sinalizado. A mesma história: crianças cujo cabelo foi rapado em contexto institucional, sem qualquer justificação médica. Sem decisão judicial. Sem consentimento parental. A explicação oficial? Algures entre “higiene” e “organização”. Para a mãe, é exactamente esse o problema: por trás de um gesto aparentemente prático esconde-se um profundo equívoco sobre o que significa retirar a uma criança uma parte da sua identidade.
Na protecção de crianças, o cabelo raramente é “só cabelo”. Assistentes sociais sabem-no, psicólogos repetem-no, e ainda assim estes casos voltam a aparecer. Cortar ou rapar a cabeça de alguém sem consentimento tem uma história longa e dolorosa: punição, humilhação, dominação. Quando a mãe fala de “um tipo de violência que nunca deveria acontecer”, não está a exagerar. Está a apontar algo mais subtil, mais insidioso - um abuso que não deixa nódoas negras, mas deixa crianças a olhar para si ao espelho, a perguntarem-se quanto delas pertence aos outros.
Por trás das paredes do lar: o quotidiano e os medos silenciosos
O lar de acolhimento em Paris parece banal por fora. Um pouco cinzento, um pouco cansado, com aquele charme burocrático de edifícios públicos que já viram dias melhores. Lá dentro, há desenhos colados com fita-cola nas paredes, quadros de tarefas, uma televisão que parece estar ligada metade do tempo. Nada, à primeira vista, grita “escândalo”. A história só começa quando se presta atenção aos pequenos detalhes: os bonés, os lenços, a súbita relutância em ser fotografado.
Um educador, falando sem se identificar, descreve uma equipa “esmagada, com falta de pessoal, a funcionar em modo de sobrevivência”. Turnos que nunca acabam, dossiers a acumularem-se, emergências sem intervalo. Neste caos, entram atalhos. O cabelo corta-se depressa, as decisões tomam-se em cima do joelho, e os corpos das crianças tornam-se mais um “problema” a gerir. A mãe da rapariga não desculpa. Apenas sabe que, nesta tempestade diária, quem é mais vulnerável paga sempre o preço mais alto.
À escala nacional, a França conta dezenas de milhares de crianças colocadas em acolhimento todos os anos. Relatórios do Défenseur des Droits (Provedor de Direitos) assinalam repetidamente padrões preocupantes: falta de formação, supervisão insuficiente, zonas cinzentas em torno do consentimento. Nem todos os lares são abusivos, longe disso. Muitos educadores lutam com todas as forças para dar às crianças algo que se pareça com uma vida segura. Ainda assim, quando o sistema range, é nestes lugares íntimos e simbólicos que as fissuras aparecem primeiro - o quarto, a casa de banho, a cadeira de “cabeleireiro” improvisada num corredor.
Porque rapar a cabeça de uma criança não é “só cabelo”
Pergunte-se a um adolescente como se sente em relação ao seu cabelo e raramente se obterá uma resposta neutra. O cabelo carrega cultura, religião, identidade de género, pertença social. Para crianças já desenraizadas das suas famílias e rotinas, pode ser uma das últimas coisas que ainda controlam. Cortá-lo sem aviso não muda apenas a aparência. Diz-lhes, de forma crua, que o seu corpo não lhes pertence por inteiro.
Psicólogos que trabalham na área do acolhimento descrevem estes actos como “violência simbólica”. Sem pancadas, sem gritos, mas com um sinal: os adultos podem decidir, unilateralmente, o que acontece ao teu corpo. Para crianças colocadas por decisão judicial, já a lidar com a impotência, o impacto é enorme. Podem não encontrar as palavras certas, podem até “aceitar” no momento, intimidadas ou habituadas a obedecer. O choque chega muitas vezes mais tarde, ao espelho, ou no recreio, quando os olhares ficam mais cortantes do que as tesouras.
A mãe que denunciou os dois novos casos de crianças rapadas não está apenas a defender o penteado da filha. Está a levantar uma questão que atravessa todo o sistema: onde acaba o cuidado e começa o controlo? Fala de “um tipo de violência que nunca deveria acontecer” porque sente que uma linha foi ultrapassada - uma linha que muitos adultos também têm dificuldade em ver. Quando uma instituição gere o cabelo como se fosse roupa para lavar ou lençóis, envia uma mensagem que vai muito para lá da higiene. Fala de quem, no fim, “possui” o corpo destas crianças.
Como proteger a dignidade das crianças em contextos institucionais
O primeiro passo concreto parece quase simples demais: perguntar à criança. Não como formalidade, não com um “vamos fazer isto, está bem?” já a meio do gesto. Uma pergunta verdadeira, feita com antecedência, com tempo para uma resposta real. Para crianças mais novas, isso pode significar escolher entre estilos, comprimentos, ou quem corta. Para adolescentes, pode significar dizer que não, ou pedir que esteja presente outro adulto em quem confiem.
Qualquer medida excepcional que toque no corpo - cabelo, roupa, revistas físicas - deve ser registada por escrito, justificada e supervisionada. Parece pesado. É precisamente esse o objectivo. Se alguém tiver de explicar, em papel, por que motivo rapou a cabeça de uma criança e quem concordou, os atalhos abusivos tornam-se mais difíceis. Em emergências, é possível contactar um responsável de serviço ou um juiz; em situações não urgentes, há tempo para ligar a um progenitor, tutor ou representante legal. A urgência nunca deveria tornar-se a desculpa por defeito.
Muitos profissionais sabem estas regras de cor. Onde tudo falha é no dia-a-dia. Um novo funcionário copia o que vê. “Sempre fizemos assim.” A linha entre proteger e controlar vai-se esbatendo lentamente. Protocolos internos claros, visíveis nas áreas comuns, podem funcionar como uma rede de segurança discreta para todos - equipa e crianças.
Erros comuns que os adultos cometem - e como evitar repeti-los
A nível pessoal, uma das maiores armadilhas para adultos em instituições é pensar “eles estão habituados”. Crianças em acolhimento são muitas vezes incrivelmente resilientes. Encolhem os ombros. Brincam. Dizem “está tudo bem”. Isso não significa que não se sintam magoadas. Significa apenas que aprenderam o custo de protestar. Muitas já perceberam que falar pode trazer mais problemas do que ficar em silêncio.
Outro erro recorrente é olhar para tudo pela lente da logística. Demasiadas crianças, poucas casas de banho, pouco tempo. Cabelo, roupa, corpos tornam-se “tarefas para despachar”. Sejamos honestos: ninguém faz isto todos os dias com plena consciência, mesmo fora de instituições. Num contexto em que tudo é cronometrado e controlado, esta tendência cresce. É aí que uma pequena pausa pode mudar tudo: mais dois minutos para perguntar, explicar e esperar pela resposta.
Os pais também podem sentir-se paralisados. Entre o medo de represálias contra o filho e a desconfiança nas instituições, muitos hesitam em queixar-se. A mãe em Paris que tornou o caso público correu um risco, emocional e social. As suas palavras ecoam as de muitos outros que nunca chegam aos media.
“Dizem-nos que os nossos filhos estão seguros com eles”, diz ela baixinho, “mas se começam a decidir sobre o corpo deles sem nós, o que vem a seguir?”
- Documente tudo: datas, nomes, conversas, fotos quando for apropriado.
- Peça explicações por escrito, não apenas justificações verbais.
- Contacte uma entidade independente (advogado, provedor dos direitos da criança, associação).
- Apoie a versão da criança sem a obrigar a falar.
- Lembre-se de que dizer “não” a uma prática abusiva não é ser um pai/mãe “difícil”.
Depois do choque, que futuro para estas crianças - e para o sistema?
Algumas histórias fazem barulho durante uns dias e depois desaparecem. Esta vai sobreviver às manchetes para as crianças envolvidas. O cabelo volta a crescer, sim. Mas, durante algum tempo, cada vez que tocarem no couro cabeludo, isso trará uma memória: uma sala, um zumbido, uma decisão tomada por cima das suas cabeças. Essas pequenas cicatrizes reaparecem muitas vezes anos depois, quando tentam perceber porque é que confiar em adultos parece inseguro.
Para a mãe de Paris, falar não é só sobre a sua própria filha. É sobre todas as outras que nunca chegam a um jornal ou a uma reportagem. Crianças que se adaptam bem demais, que cumprem em silêncio, que dizem aos assistentes sociais o que estes querem ouvir só para seguir em frente. Na voz dela há raiva, mas também algo mais teimoso: a exigência de uma conversa honesta sobre o poder na protecção de crianças. Num dia mau, pergunta-se se algo vai mesmo mudar. Num dia melhor, imagina um futuro em que rapar a cabeça de uma criança sem consentimento seria impensável, e não apenas “lamentável”.
Todos já tivemos aquele momento em que um cabeleireiro cortou “só um bocadinho mais” do que queríamos e nos sentimos estranhamente traídos ao espelho. Agora estique essa sensação para a vida de uma criança que já vive longe de casa, longe de tudo o que lhe é familiar, com estranhos a decidirem quando come, dorme, estuda. De repente, uma cabeça rapada deixa de ser um detalhe. É um sinal de alarme. Talvez a verdadeira pergunta, para lá deste caso, seja até onde estamos dispostos a ir para proteger a dignidade de crianças que não vemos todos os dias.
| Ponto-chave | Detalhe | Interesse para o leitor |
|---|---|---|
| Consentimento e o corpo das crianças | Rapar cabeças num lar sem consentimento é uma forma de violência simbólica | Ajuda a reconhecer quando uma prática ultrapassa a linha entre cuidado e abuso |
| Atalhos institucionais do quotidiano | Equipas sobrecarregadas podem normalizar práticas que minam a dignidade | Oferece uma visão “por dentro” de como pequenos abusos se tornam rotina |
| O que as famílias podem fazer | Documentar, exigir respostas por escrito, procurar apoio independente | Dá ferramentas concretas para reagir se algo semelhante acontecer |
FAQ:
- Porque é que rapar a cabeça de uma criança num lar é visto como violento? Porque toca no corpo e na identidade da criança sem consentimento livre e informado, num contexto em que ela já está numa posição de fragilidade.
- A equipa pode cortar ou rapar cabelo por razões de higiene? Apenas em situações estritamente justificadas, com motivos documentados, respeito pela criança e, sempre que possível, autorização parental ou legal.
- O que pode um progenitor fazer se descobrir que isto aconteceu? Recolher provas, pedir uma explicação escrita à instituição, contactar um advogado ou uma organização de direitos da criança e, se necessário, apresentar queixa formal.
- Todos os lares em França estão envolvidos neste tipo de prática? Não; muitas equipas trabalham de forma ética e respeitosa, mas estes casos mostram que ainda faltam salvaguardas claras e supervisão em alguns locais.
- Como proteger melhor as crianças em acolhimento? Reforçando a formação, clarificando protocolos sobre corpo e consentimento, ouvindo a voz das crianças e aceitando supervisão externa em vez de fechar fileiras.



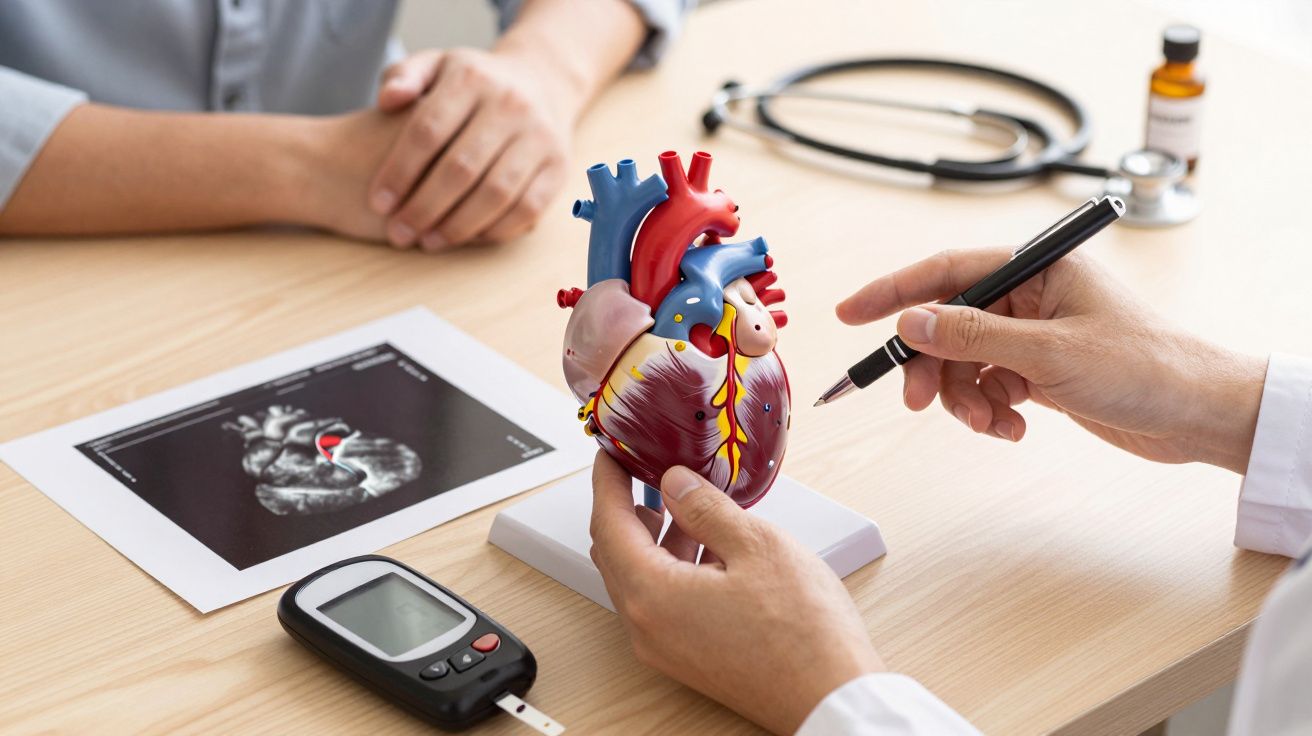



Comentários (0)
Ainda não há comentários. Seja o primeiro!
Deixar um comentário